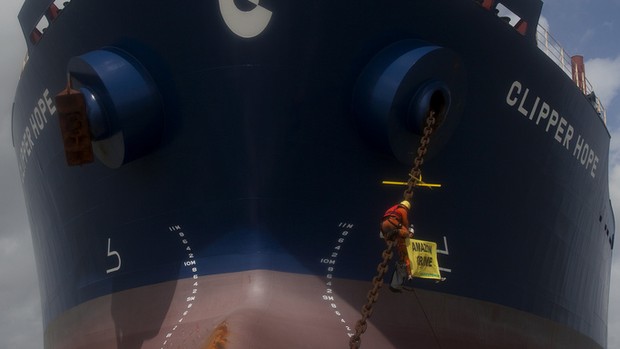A Lei Federal 12.651, de 25 de maio de 2012, conhecida como novo Código Florestal, previu a dispensa de instituição de reserva legal em áreas onde haja a instalação de determinados empreendimentos, dentre os quais, os de geração, subestações, linhas de transmissão e de distribuição de energia elétrica.
Tal dispensa ocorreu em virtude da utilidade pública e do interesse nacional dos serviços públicos em questão, vitais não só para o desenvolvimento do país, mas para a segurança, bem estar e saúde da população.
Contudo, referida opção legislativa tem sido questionada com fundamento na suposta ofensa à exigência constitucional de proteção ambiental prevista no artigo 225, da Constituição, da exigência constitucional de que a propriedade atenda à sua função social (artigo 5º, inciso XXIII, e artigo 170, inciso III, ambos da Constituição Federal), bem como no princípio de vedação de retrocesso em matéria ambiental.
A importância da discussão sobre o tema se revela na medida em que a (in)constitucionalidade do parágrafo 7º, do artigo 12, da Lei Federal 12.651/2012, será examinada pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.901 proposta pela Procuradoria-Geral da República. A referida ADI foi distribuída perante o STF em 21 de janeiro de 2013 questionando a constitucionalidade dos artigos 12, parágrafos 4º, 5º, 6º, 7º e 8º; 13, parágrafo 1º; 15; 48, Parágrafo 2º; 66, parágrafos 3º, 5º, incisos II, III e IV, 6º; e 68, todos da Lei Federal 12.651. Em agosto de 2013, o relator, Ministro Luiz Fux, aplicou o artigo 12, da Lei Federal 9.868/1999, a fim de que a decisão venha a ser tomada em caráter definitivo e não na fase de análise cautelar. Neste contexto, até a presente data (janeiro de 2014), todos os dispositivos permanecem em vigor no ordenamento, impondo à Administração Pública o respeito e atendimento obrigatórios, uma vez que seus atos são vinculados à lei.
Em que pesem os sólidos argumentos em contrário, a nosso ver, o parágrafo 7º, do artigo 12, da Lei Federal 12.651/2012, não padece de qualquer vício ou contorno de inconstitucionalidade, e se encontra amparado pelo princípio do desenvolvimento sustentável.
Como já delineado, a Constituição da República, em seu artigo 225, caput, consagra como princípio fundamental a defesa do meio ambiente para as presentes e futuras gerações.
Entretanto, como todos os outros princípios, constitucionais ou infraconstitucionais, a proteção ao meio ambiente não pode ser considerado como princípio absoluto, devendo ser analisado de acordo com a “interpretação sistemática” da Constituição, do seu verdadeiro espírito, e não de forma isolada, como pretendem os defensores da tese da (in)constitucionalidade do parágrafo 7º, do artigo 12, da Lei Federal 12.651/2012.
Isto porque, de outro lado, a Constituição de 1988 elevou a garantia do desenvolvimento nacional a objetivo fundamental da República Federativa do Brasil (artigo 3°, inciso II), e também proclama que a ordem econômica tem por fim assegurar a todos uma existência digna, a qual somente poderá ser concretizada caso sejam atendidos os princípios constitucionais que pautam a atividade econômica, dentre os quais a defesa do meio ambiente, nos termos do inciso VI, do artigo 170, verbis:
Artigo 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
VI – defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;
O aparente conflito entre esses dois princípios constitucionais (proteção ao meio ambiente e desenvolvimento nacional) deve pautar-se na ponderação, in concreto, de qual deve prevalecer, levando-se em consideração o interesse mais relevante, o que ensejará o menor número de prejudicados e o menor impacto social.
Neste contexto, numa análise conjuntural e sistêmica do texto constitucional, é possível inferir que o próprio Poder Constituinte vislumbrou a possibilidade e necessidade de conciliação desses dois valores — desenvolvimento e meio ambiente — tanto que estabeleceu a defesa do meio ambiente como princípio da ordem econômica, objetivando o que se denomina desenvolvimento sustentável.
Assim, a solução do aparente conflito existente na dispensa de instituição de reserva legal nos imóveis destinados à implantação de empreendimentos de geração, subestações, linhas de transmissão e de distribuição de energia elétrica, deve sopesar o interesse na proteção do meio ambiente com a necessidade de desenvolvimento econômico do país, que perpassa, obrigatoriamente, pelo setor elétrico.
Acrescente-se que a garantia de desenvolvimento sustentável do setor elétrico não possui cunho meramente econômico, o que, todavia, por si só já justificaria a sua importância ao país, mas, principalmente, social.
É inegável que a própria dignidade da pessoa humana, também considerada como princípio fundamental da República Federativa do Brasil, depende do acesso dos cidadãos à energia elétrica para que possam usufruir de um mínimo de conforto, bens indispensáveis, e para que desenvolvam atividades econômicas para seu sustento e crescimento do país.
A importância de se promover o acesso à energia elétrica no país é refletida, por exemplo, no programa do Governo Federal “Luz para Todos”, que procura ser um vetor do desenvolvimento social e econômico das comunidades que sofrem de exclusão energética, contribuindo para a redução da pobreza e aumento da renda familiar.
Todavia, se o desenvolvimento do setor elétrico implica em inevitável alteração do meio ambiente, isso pode ser feito de forma racional, minimizando e compensando eventuais efeitos, para que coexistam os princípios fundamentais de proteção ao meio ambiente e desenvolvimento econômico.
Basta verificar o rigoroso processo de licenciamento ambiental a que se sujeitam os empreendedores, que assumem e executam uma série de medidas mitigadoras e compensatórias para fins de instalação e funcionamento dos empreendimentos. Como é notório, os processos de licenciamento estabelecem programas ambientais considerados indispensáveis à compatibilização dos empreendimentos com a proteção do meio ambiente, mediante o exame dos impactos socioambientais ocasionados.
Conclui-se, assim, que o parágrafo 7º, do artigo 12, da Lei Federal 12.651/2012, é compatível com o princípio constitucional do desenvolvimento sustentável, uma vez que essencialmente vinculado à dignidade da pessoa humana, reconhecida como direito fundamental (artigo 1º, inciso III, Constituição Federal).